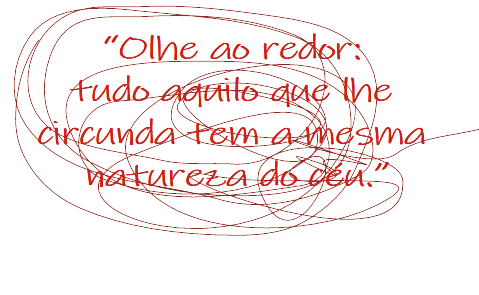A astrologia do futuro, de Emanuele Coccia [1]
O céu
Por séculos, investigamos o céu para prever o futuro. Levantávamos os olhos e imaginávamos poder capturar aquilo que aconteceria observando a geometria móvel e variável que outros corpos – as estrelas – pareciam desenhar em seu corpo etéreo. É por isso que a ciência do futuro ou o saber vernacular sobre aquilo que acontecerá se chama, ainda hoje, astrologia: a ciência dos corpos celestes. Por séculos temos observado, adorado, venerado partes do céu, as estrelas, ou melhor, a sua imagem luminosa na porção de céu que vemos a cada noite, como a causa de tudo aquilo que nos acontece e nos acontecerá.
Esta crença era constantemente acompanhada de uma outra. Com efeito, por séculos olhamos para a terra como a mais sagrada guardiã do nosso passado. É à terra que, desde sempre, confiamos e temos entregado os mortos. É à terra e às ruínas que vomita do seu ventre que sempre pedimos para nos contar aquilo que fomos. Por séculos temos considerado a terra como um puro efeito, um mero depósito cósmico de tudo aquilo que aconteceu em outro lugar, a garagem das sucatas do universo humano e não humano. Uma massa de ruínas.
Por séculos, e por razões difíceis de compreender, somos vítimas desse estranho erro de paralaxe. Examinamos e retiramos o futuro de um espaço sideralmente distante de nós e das nossas vidas. Fizemos da Terra do espaço que nos acolhe, que nos nutre, que gera (porque não somos outra coisa que uma variação sobre o tema da sua própria matéria), uma imensa lixeira arqueológica que até nos impede de reconhecer e viver o presente.
Esse erro tem que ser corrigido. Precisaríamos inventar, hoje, uma verdadeira ciência do futuro que consiga entender onde olhar, melhor, que consiga encontrar o futuro aqui, agora, ao nosso alcance. Talvez não precise de muito. Talvez essa nova ciência não seja muito diferente da primeira. Talvez baste inverter a astrologia tradicional. Inverter o céu e a terra.
São ao menos três razões para fazer isso. Tem, inicialmente, uma evidência astronômica: tudo aquilo que aparece no céu aconteceu há anos atrás, milhões de anos atrás. Não somente não há futuro no céu, como não há qualquer sinal da atualidade. As imagens mais distantes do céu são só ruínas – mantidas no formol por alguns milhões de anos para que sejam visíveis. O firmamento é o maior canteiro arqueológico do cosmos. É um imenso museu a céu aberto, capaz de fazer viver o passado do universo na forma de um espetáculo que passeia de planeta em planeta. O céu astrológico é o circo itinerante do passado remoto do cosmos.
Depois há uma razão astrológica, no sentido literal da palavra. Sabemos, há pelo menos cinco séculos, que a terra também é um corpo celeste. É céu tanto quanto tudo o que está entre a nossa atmosfera e o sol. Tem a mesma substância, a mesma matéria, a mesma forma de tudo aquilo que a circunda. Se o nosso planeta é céu, nós também somos céu, nós também temos uma natureza astral. Olhe ao redor: tudo aquilo que lhe circunda tem a mesma natureza do céu: os seus entes queridos, o seu gato, a mesa sobre a qual você escreve. Tudo é céu. Tudo é matéria movida pela mesma energia que faz do sol uma estrela. E se tudo é céu, tudo é futuro.
Se isso é verdade, a astrologia deve tornar-se a ciência de tudo aquilo que existe aqui, agora. Para conhecer o futuro não devemos levantar os olhos, mas abaixá-los e dirigi-los a qualquer pedaço de céu que nunca deixamos de pisar, comer, beber, respirar e, pelo menos em parte, massacrar: o nosso próprio planeta. Tudo aquilo que aparece sobre a terra não é passado, nem é presente. Toda a matéria é futuro, futuro antecipado em forma de aposta. Todos os seres vivos, o corpo inteiro do planeta é um fundo especulativo. A Terra é corpo futuro e futurístico – o futuro de todos os corpos. Este é o núcleo da nova astrologia. Devemos nos liberar, talvez, da ecologia: a Terra não deve ser respeitada, não deve ser protegida, não deve ser conservada. A Terra é planeta, isto é, literalmente um corpo em constante deriva, escapando do presente. É por causa da natureza planetária do corpo que gera e sustenta a cada um de nós que é impossível resistir ao futuro. A Terra é a nossa futura carne. A carne de amanhã, de depois de amanhã e de mil milhões de anos.
O futuro
O futuro nunca vem de fora. Não é um meteoro que ameaça destruir a massa do planeta. É o contrário: se há futuro, é somente porque não há um Fora. Apenas temos futuro porque tudo já é dentro. Tudo dentro deste planeta. Tudo na sua superfície. O futuro é a pele do planeta. Principalmente, se há futuro, é porque essas entranhas não param de se transformar. Se a terra é futuro, não é por causa das suas dimensões. O futuro não é nunca algo grande, imenso. É o passado que ocupa espaço: o passado sempre é monumento, extensão de matéria que requer proteção e restauro.
Se a terra é futuro, está em cada um dos seus átomos. Em todas as suas fibras. O futuro pertence ao planeta como o mais pequeno dos mais pequenos dos seus habitantes. A astrologia reversa permite entender, portanto, que o futuro existe em um modo mais próximo do modo como vivem os vírus do que o homem ou os seus monumentos. O futuro é absolutamente microscópico. É futuro só aquilo que consegue ver vida na mais pequena porção de matéria.
Um vírus, pode-se dizer com alguma simplificação, é como o mecanismo químico, material, dinâmico de desenvolvimento e reprodução de todos os seres vivos, mas externo à estrutura celular, em forma mais anárquica, mais livre. Um vírus é uma forma de vida que habita a soleira entre a vida “química” que caracteriza a matéria e a vida biológica, sem pertencer a uma mais que a outra. Em seu próprio corpo, a clara oposição entre a vida e a morte e, portanto, entre o presente e o futuro, se anula. Forçando um pouco, pode-se dizer que o vírus é a força que permite que cada corpo desenvolva sua própria forma, mas como se existisse desencarnado, liberado, flutuante. Eis o que é o futuro: uma força de desenvolvimento e de reprodução da vida que (ainda) não nos pertence e que não é propriedade exclusiva, nem propriedade comum e compartilhada, nem mesmo uma identidade definitiva, mas, ao contrário, é uma potência flutuante sobre a superfície de todos os outros corpos. Exatamente porque é livre, esta força circula de corpo em corpo e é, contrariamente, disponível a todos, suscetível de ser apropriada por qualquer um deles. Porém, como apropriar-se de um vírus significa contaminar-se, transformar-se, sofrer uma metamorfose, apropriar-se do futuro significa expor-se a uma mudança irreparável.
O futuro é pura força de metamorfose, mas capaz de existir não somente como tendência de um corpo individual, mas como um corpo autônomo, como o pólen que faz voltas no ar, como um recurso infinitamente apropriável. O futuro é o fato de que a vida e a sua força estão em toda parte e não podem pertencer a nenhum de nós, nem como indivíduo, nem como nação, nem como espécie. O futuro é uma doença que obriga indivíduos e população à transformação. Uma doença que impede de pensar a própria identidade como algo estável, definitivo, real.
O futuro é a doença da eternidade, o seu mais benigno tumor, o único que nos faz felizes. Não devemos nos proteger destes vírus. Não temos que nos proteger dessa doença. Não temos que nos vacinar contra o vírus do tempo. É inútil: a nossa carne nunca deixará de mudar. Temos que adoecer, adoecer gravemente. E não deixar de morrer. Nós somos futuro. Vivemos rapidamente. Com frequência, morremos.
A cidade: o novo contrato urbano
Como em uma fábula antiga, um vírus entrou em quase todas as cidades do mundo. Pela primeira vez foi possível assistir simultaneamente em escala planetária a um evento dessa grandeza. Milhões de vozes foram acionadas para comentar – em off – o que havia diante do olhar de milhares de seres humanos: não somente a tragédia do acúmulo de mortes e dos hospitais congestionados, mas aquela, mais estranha, de uma morte mais profunda e mais ampla, da qual ainda não se compreendeu a natureza e o sentido. O vírus SARS-CoV-2, matou, para sempre, a cidade: a maravilhosa máquina que inventamos a dez mil anos para produzir encontros e eventos inesperados, para acelerar e dominar o futuro. Em qualquer latitude, com o vírus, as próprias cidades foram colocadas em cuidados intensivos: impossível tocá-las, abraçá-las, fazer uso delas. E agora, depois de alguns meses, o seu cadáver jaz diante de nós, sem vida. Está morto para sempre.
É inútil invocar sua ressurreição. Lamentaremos, talvez por décadas, o seu desaparecimento. Mas, na realidade, essa morte é apenas mais uma aceleração do futuro: um vírus, mais uma vez, permitiu que o presente não ficasse preso nas malhas do passado. As cidades eram espaços cansados, antigos, imaginados para uma vida que não é mais a nossa a pelo menos dois séculos. Os apartamentos, as casas, os edifícios com os quais os compomos como se fossem as peças de um jogo de Lego planetário são pesados, rudes e inadequados ao movimento e à migração que agora caracterizam muito fortemente os nossos dias. Temos experimentado isso nesses dias: casas antigas são mais prisões que abrigos.
Os carros que têm caracterizado fortemente a paisagem urbana são também uma ruína: objetos monstruosos, pesados, lentos, estúpidos, poluentes, sobreviventes de uma tecnologia – aquela ligada ao petróleo – antiquada e superada da qual conhecemos as consequências nefastas sobre a nossa saúde.
Geralmente as cidades, indiferente do seu grau de desenvolvimento, eram a sobra de um projeto maluco do qual é necessário liberar-se o mais rápido possível: a ideia de que para tornar possível a existência de um número indefinido de indivíduos humanos era necessário concentrá-los segundo uma lógica puramente monocultural, em um espaço reduzido, que excluísse do lado de fora qualquer outra espécie viva. A cidade é um estranho projeto de mineralização da vida, baseado na ilusão de que a vida humana possa nutrir-se unicamente do contato com pedra, aço, vidro. Toda a vida da qual precisamos para viver, tudo aquilo que nós comemos, foi exilado em outro lugar. E toda a vida que não fazia parte das nossas necessidades ficou ainda mais longe, em espaços chamados florestas, literalmente o exterior extremo – um tipo de campo de refugiados para toda a vida que não nos interessa.
A cidade mineral é um projeto perigoso e consolador. É perigoso, porque reunir seres humanos e pedras em um único lugar significa, ao pé da letra, produzir um deserto. É consolador, porque pensar que a vida não humana habite outro lugar, fora da cidade, nos permite esquecer que o espaço que chamamos de cidade é um espaço que nos separa. Paris, Londres, Rotterdam, Milão, Nova York não eram desertos minerais antes da chegada do homem. Eram espaços habitados por outras espécies. Eram cidades não humanas. Cidade e não casas não humanas em um duplo sentido: eram lugares onde tinham chegado as espécies vivas mais diversas (e não estavam em casa). Era um espaço de assentamento que tinha uma história própria. Em segundo lugar, não era um espaço natural, porque a chegada de cada espécie singular havia mudado profundamente não só a realidade física, a paisagem, mas também, obviamente, a interação com o resto da espécie. Era uma grande metrópole multiespécie.
É de um desses campos de refugiados – do futuro – que o SARS-CoV-2 chegou à cidade, como se quisesse nos lembrar que o futuro não pode ser afastado. Nenhum distanciamento social pode nos proteger do tempo: o tempo para reescrever um novo contrato urbano. O espaço do futuro deverá receber um número muito elevado de espécies: não como simples cidadãs, mas como arquitetas e urbanistas. Somente assim será possível se livrar da oposição entre cidade e floresta.
A cidade do futuro
Não paramos de modificar o mundo: a cidade não é o maior e o mais importante artefato de que somos capazes. Mas não somos os únicos a modificar o ambiente ao redor. Todo ser vivo, indiferentemente do seu tamanho, do filo ao qual pertence, das suas qualidades anatômicas, é um laboratório incansável de transformações do espaço que o circunda. A relação entre os seres vivos e o mundo é sempre de natureza projetual e arquitetônica: cada espécie continua a negociar a própria vida e o próprio ambiente com outras espécies para definir um equilíbrio possível. Buscando estruturar o mundo à própria imagem e semelhança, cada ser vivo intervém no ambiente e na vida dos outros: o que chamamos de “poluição” é simplesmente a impossibilidade de cada ser vivo em permanecer no seu próprio nicho. Toda espécie é arquiteta e designer do mundo e é também arquiteta e desinger do mundo de outras espécies. Toda espécie é, de algum modo, clandestina e abusiva no seu ambiente, toda espécie perturba as outras. O exemplo mais óbvio da relação técnica interespécies é aquela que cada planta estabelece com as outras através das flores. As flores não são órgãos reais, mas um complexo de órgãos modificados cuja função é a reprodução. Diferente de outras espécies, a reprodução sexual não envolve somente dois indivíduos pertencentes à mesma espécie, mas também indivíduos pertencentes a outros reinos, como por exemplo, os insetos. Por meio das flores, as plantas exercitam aquilo que se poderia definir como um tipo de “agricultura reversa” (ou reprodução reversa): confiam o próprio destino biológico e genético a outra espécie, aparentemente de um outro reino. Através das flores, as plantas transformam um inseto, um animal (humano ou não), o vento ou a água em geneticistas, criadores [de animais], agricultores, cujo poder é o de decidir quem se unirá sexualmente com quem e, então, determinar o destino biológico e ecológico da espécie vegetal em questão. O sexo se torna um tipo de ecologia e, sobretudo, torna-se parte de uma relação interespécie de natureza técnica. A escolha dos insetos, sobre acasalar essa com aquela flor, não se baseia em um cálculo racional, mas no gosto: a quantidade de açúcar que uma flor contém é a chave. A evolução se baseia então sobre gosto então sobre utilidade. A evolução das plantas, portanto, assemelha-se muito ao gosto de uma outra espécie: é como se fosse um desfile de modas que se apresenta diante dos agentes da polinização. Podemos generalizar essa descrição e pensar que as relações entre espécies são sempre desse tipo.
Cada paisagem é uma exposição de natureza contemporânea ou um desfile de máscaras que expõem a moda da natureza: uma bienal multiespécies, uma instalação à espera de ser substituída por centenas de outras. Tudo na natureza, como na nossa existência, é artificial e arbitrário. Uma artificialidade atribuída ao gosto e à escolha do design estético das diversas espécies. A história da Terra é uma história da arte, uma experiência artística eterna. Nesse contexto, toda espécie é tanto o artista, como o curador das outras espécies. E, ao contrário, cada espécie é uma obra de arte e uma performance da espécie cuja evolução representa, mas também o objeto de uma exposição da qual são curadoras as espécies que a fizeram emergir.
É a partir dessa perspectiva que a cidade do futuro deve ser imaginada. No início do século XX, quando a arte afirmou-se como vanguarda, deixou de desempenhar uma função estética. Libertou-se da tarefa de produzir beleza, de decorar o existente, de harmonizá-lo. Sustentando-se como contemporânea, isto é, alegando incorporar uma forma de tempo e não uma forma de espaço ou de matéria, a arte tornou-se uma prática coletiva de adivinhação do futuro. Daquele momento em diante, através da arte, cada sociedade constrói algo que ainda não existe: não é mais um reflexo harmônico da própria natureza, mas uma tentativa de reproduzir-se em um modo diferente do que é, um modo diferente de ser e de conhecer a diferença que ainda não existe.
A arte contemporânea não é definida por um meio, por um método, por uma disciplina: é um movimento que atravessa e abala todos os meios sensíveis, todas as práticas e as disciplinas culturais para permitir à cultura ser diferente do que é. A arte é o espaço onde uma sociedade pode tornar visível o que não pode confessar, pensar ou imaginar.
Devemos pensar a evolução como o estilo de vida que corresponde àquilo que a arte contemporânea é para a cultura. A natureza não é somente a pré-história imemorial da cultura, mas o seu futuro ainda não realizado. É a sua antecipação surrealista. A natureza contemporânea é a cena onde a vida está na vanguarda do seu futuro. É a vida como uma vanguarda natural. É a reprodução surrealista das formas de vida.
A cidade deveria tornar-se algo parecido com museus de natureza contemporânea. Não unicamente ecossistemas de convivência. O conceito de ecossistema continua pressupondo a ideia de um equilíbrio natural e imutável, onde toda intervenção humana é interrompida e onde toda inovação técnica é excluída. O que temos dito sobre evolução como progresso técnico deveria nos convencer que cada ecossistema é, em realidade, uma cidade – isto é, um espaço onde se concentram inovações e progresso – e um museu da natureza contemporânea – um espaço onde esse progresso não segue uma lógica predeterminada, mas é livremente acessível a todas as espécies.
A cidade como museu de natureza contemporânea não é senão que uma coleção de arte e técnica em perfeita continuidade com as nossas. O seu contorno será um tipo de híbrido entre museus antigos, zoológicos ou jardins botânicos, antigas cidades humanas e caixas brancas. A vida nessas instituições deverá coincidir com um tipo de planejamento e urbanística interespécies, com uma arquitetura multiespécie da paisagem.
Esses novos museus devem ser promotores de uma cultura “ecossurrealista” (mas não necessariamente ecomodernista), capaz de imaginar a natureza para além dos seus limites. Reunindo artistas, cientistas, designers, arquitetos, agricultores, criadores [de animais], tratará de construir associações multiespécies no meio do caminho entre a cidade, a horta, a lavoura e o celeiro, onde todos produtos vivos trabalham para os outros e para si mesmos. Nesse exercício virtuoso de imaginação, seja estético ou natural, a cidade se torna a prática de produzir um Leviatã interespécie.
A cidade deve tornar-se aquilo que permite a contemporaneidade da natureza, porque esta é sempre contemporânea: não é a pré-história da cidade ou da civilização. É o nosso presente e, sobretudo, o nosso futuro. É sempre uma projeção futurista do presente, uma cidade interespécies. A natureza é o que produz a vida contemporânea.
…………………………………
[1] Publicado na Revista Flash Art n. 349, jul-ago 2020. Disponível em https://flash—art.it/article/emanuele-coccia-astrologia-del-futuro/. Acesso em 29 jul. 2020. Tradução de Carmen Lúcia Capra para os Quarentextos do Grupo de Pesquisa Flume Educação e Artes Visuais (Uergs-CNPq).